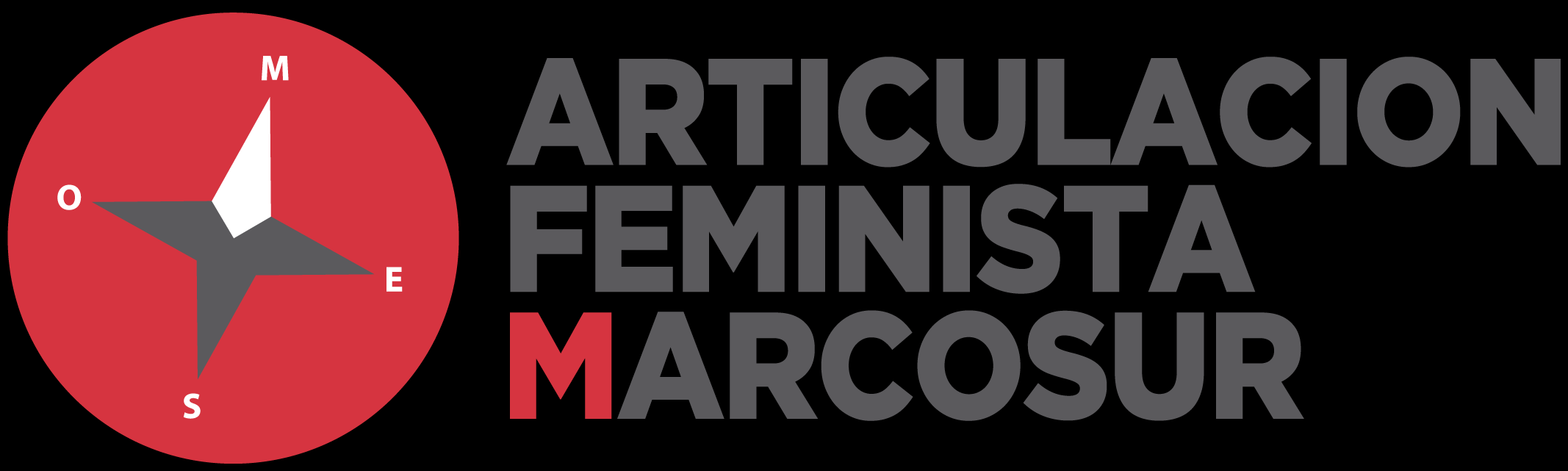No 2º episódio, este caleidoscópio de experiências traz notícias de Moçambique.
Por Dida Pinho*, em colaboração à coluna da Carla Batista.
Desde que começou a pandemia desse novo coronavírus, o que mais temia – e, creio, toda gente que tem próximo de si pessoas com fatores de risco para o agravamento dessa infecção teme – seria receber a notícia de que minha filha mais velha, a Luanda, portadora de diabetes, estava com Covid. Ela aí no Brasil, e eu aqui em Moçambique.
Num primeiro momento, como sempre me acontece nas situações de emergência, lidei com a notícia com calma, pois a informação me foi dada pela própria Luanda. Ela estava bem e serena. A saturação pulmonar dela estava a 98%, por isso fiz recomendações de cuidados e procurei deixá-la tranqüila. Mas dois dias depois, acordei com a notícia de sua internação no Hospital Emilio Ribas, em São Paulo. O Emílio Ribas é o hospital de referência para doenças infectocontagiosas, que atualmente só está atendendo Covid. Posso dizer, com certeza, que foi uma das notícias mais difíceis que recebi nos 16 anos que vivo em Moçambique. Esse sentimento foi reforçado por um cenário em que a pandemia cresce de forma acelerada, com hospitais super lotados, a ausência de um tratamento específico para a doença e a consciência de que as pessoas, aparentemente, respondendo bem, de repente podem vir a ter seu estado agravado.
Eu não tinha a menor ideia de qual era o estado geral dela. Eu vinha estudando muito sobre a Covid 19 devido ao meu trabalho junto a John Hopkins e ao acompanhamento das notícias sobre a situação no Brasil. Foram momentos muito difíceis. Luanda ficou internada por 10 dias. Os 10 dias mais longos que já passei: vivi altos e baixos, um turbilhão de emoções e aquele tipo de medo que sufoca e que faz todos os sentidos sumirem. Chorei, me descabelei e respirei. A primeira coisa que pensei depois do caos de emoções era que tinha que ir para o Brasil de qualquer maneira. Como? Não há vôos para canto nenhum! Fazer o quê no Brasil, no meio do caos instalado na saúde pública, sendo eu mesma de grupo de risco, portadora de uma doença auto-imune?
Dei-me conta de que não havia nada que eu pudesse fazer, além de esperar pela melhora de Luanda. Ouvir notícias do Brasil, que já não estava fácil pelos problemas causados pela Covid e pela situação política, se tornou insuportável. Entrei em contato com a minha maior fraqueza e impotência. E, como não podia fazer nada, além de esperar, conheci toda a minha fortaleza e resiliência.
Outra coisa que me marcou foi o fato de que não falei nada com ninguém, nem para as amigas, nem para a maior parte da família, para não gerar pânico, mas também porque não estava em condições de gerir a reação das pessoas.
Surpreendentemente, algumas amigas, as certas, me ligaram ou mandaram mensagem para saber de mim. Uma rede incrível de solidariedade se formou em apoio aos cuidados de saúde da Luanda e minha também. Como a rede de mulheres é salvadora! Cada uma à sua maneira, com a sua especialidade e humanidade, trouxe uma palavra, uma sugestão, uma saída e muito acolhimento. Entre um momento e outro de estresse diante dos altos e baixos do tratamento, consegui alcançar a tranqüilidade de me surpreender rindo em meio à minha quarentena paralisante, ao me pegar lavando bananas, sacos plásticos das compras, usando lenços umedecidos em álcool para abrir a porta, apertar o botão do elevador e os comandos de caixa eletrônico. Ri de mim, do excesso de zelo, cada dia experimentando um modelo novo de máscara, mas com a certeza de que tudo isso é, sim, mais necessário do que nunca. Os casos por aqui começam a aumentar. Já passamos dos mil casos em Moçambique, apesar de, na sua maioria, serem casos leves e com um número pequeno de mortes em relação a outros países – ao menos por enquanto, apesar da contaminação já ser comunitária.
Falar da COVID 19 não é apenas falar de notícias da pandemia lá fora. Ela nos afeta a cada uma e cada um no lugar mais importante, que é nossa forma de estar. Seja porque mudou nossas vidas radicalmente ou porque ela atinge traiçoeiramente nossos amores, amigues, ídolos, conhecides, desconhecides – milhões de pessoas. Mas o pior da pandemia é que ela revela toda a fragilidade e falência de tempos em que a ética e os direitos essenciais parecem que nos fugiram. Minha maior saudade não é de sair na rua à vontade, sem máscara, sem álcool gel. Mas saudades, tenho mesmo é do tempo em que tínhamos a impressão de que tudo estava em nossas mãos. Que era só nos juntarmos, «tomar uns copos» com as amigas e mudar o mundo.
Não desanimei não! Só estou esperando passar mais esta chuva.
Minha filha Luanda está em casa. Tem alguns problemas de saúde decorrentes do tratamento e da diabetes, que ficou descompensada, mas está bem. Como muitos depoimentos que tenho visto, ela está fazendo deste susto um momento para mudar o estilo de vida.
Hoje é dia de ir às compras. Lá vamos nós com as «armaduras e as armas» das deusas que nos rodeiam e nos protegem. Todas muito reais e mais presentes que nunca: as amigas.
____________
*Dida Pinho é ativista, especialista em gênero do Centro de Programas de Comunicação da Universidade Johns Hopkins em Maputo, Moçambique.
Relacionado:
Mulheres migrantes em Lisboa: um caleidoscópio de experiências em tempos de pandemia